Jogo da memória
Eu tinha 24 anos quando perdi minha mãe. A data completou 3 décadas em novembro do ano passado. Me peguei com certa dificuldade para lembrar seu tom de voz. Aqueles primeiros e definitivos anos de convivência competiam com o tempo infinito da sua falta. 30 anos de silêncio teriam transformado minha mãe numa espécie de […] O post Jogo da memória apareceu primeiro em Dia de Beauté.

Eu tinha 24 anos quando perdi minha mãe. A data completou 3 décadas em novembro do ano passado. Me peguei com certa dificuldade para lembrar seu tom de voz. Aqueles primeiros e definitivos anos de convivência competiam com o tempo infinito da sua falta. 30 anos de silêncio teriam transformado minha mãe numa espécie de ficção.
Eu poderia atribuir meu esquecimento aos meus 54 anos, já que um dos sintomas da menopausa são os lapsos de memória. Mas não é de hoje que vêm se amarelando as fotos nessa caixa de lembranças. É a própria perda que nos ensina esse mecanismo de sobrevivência. É preciso esquecer para seguir em frente, ou a dor pesa demais na caminhada.
Dias atrás, foi a vez da morte do pai do meu filho fazer aniversário: seus 18 anos de falta são praticamente os 18 que Francisco completa em março. Por muitos meses, foi preciso rememorar todos os dias a sua partida brusca e precoce. Ou seria impossível acreditar que era verdade e enfim começar o luto. Tratei de registrar nossa história, enquanto estivesse fresca na lembrança, para que assim meu filho tivesse algum acesso a ela. Perder mãe e pai já havia me ensinado que o tempo é espaçoso, não deixa lugar vago para o que já foi.
Fotos coloridas e sorrisos largos se sobrepõem às imagens em preto e branco, e a vida segue acelerada. Memórias difíceis ficam em segundo plano à medida que vivemos novas cenas, especialmente as dignas de celebração. A imagem inacreditável do nascimento do meu filho me frequenta sem cerimônia, lembrando o motivo maior de ainda estar aqui.
E quem ainda está aqui é Fernanda Torres, que enfim levou para casa a estatueta que a mãe havia perdido no Globo de Ouro 26 anos antes, para uma atriz cuja atuação não foi propriamente inesquecível. A vitória de Fernanda na premiação foi o passo definitivo para algo ainda maior: sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz, junto com o filme “Ainda Estou Aqui” concorrendo a Melhor Filme. Chico não estava de brincadeira quando cantou que “apesar de você, amanhã há de ser outro dia”. Baseado numa história real que ficaria melhor sendo só ficção, o longa-metragem de Walter Salles é monumento e é lembrete: os milhares de desaparecidos na ditadura não podem permanecer no esquecimento. A mesma palavra teria sido um dos impulsos para a escrita do livro que dá origem ao longa. Uma das motivações de Marcelo Rubens Paiva para escrever a história dos pais foi o processo de demência da mãe, Eunice Paiva.
Ver Fernanda superar Angelina Jolie e Nicole Kidman foi um presente adiantado, para compensar as manchetes distópicas que viriam em seguida. O fogo consumindo Los Angeles, a posse de um presidente que já assume ardendo de ódio, em um novo mandato que soa mais como uma continuação turbinada de “O exterminador do futuro”.
Na mesma noite, Demi Moore teve seu trabalho de atriz reconhecido, depois de anos longe das câmeras ou, por que não dizer, esquecida por Hollywood. Se aos 50 as mulheres começam a se sentir invisíveis, algo parece estar subvertendo essa lógica. Fernanda Torres tem 59 anos e Demi Moore, 62.
“Se você se sente invisível, isso significa que você se considera um objeto. Se você é sujeito, você nunca é invisível”. Quase profética, a fala da atriz Julianne Moore apareceu na minha timeline dias antes do Globo de Ouro.
Se para a mulher a sensação de invisibilidade costuma ser um mau sinal, há momentos na vida em que ser invisível é conveniente e oportuno. Em outros, prefiro pensar que o importante é eu não deixar de me enxergar. Invisível, mesmo, é quem não olha para si mesmo, e depende do olhar do outro para existir. Se a gente parar pra pensar, pessoas para as quais eventualmente nos tornamos invisíveis são as que naturalmente deveríamos deixar de ver também.
Quando bebês, imaginamos que tapar os próprios olhos já nos torna invisíveis. Escolher não olhar para algumas coisas pode ser uma sabedoria que nasceu com a gente e que, adivinhe: esquecemos.
Aos 10, eu adorava me abrigar numa cabaninha de cobertores, ou me esconder numa barraquinha de pano de um metro quadrado, cujo tecido ilustrado simulava uma banca de feira do Mercado Central. Amava ficar ali, esperando algum possível comprador que, claro, jamais aparecia. O prazer morava mais na protetora invisibilidade do que na brincadeira de feira. Invisível, eu poderia ser quem quisesse. E espiar, incógnita, aos movimentos à porta de casa. Imune a críticas e cobranças, livre das obrigações que nascem cedo e vão além da vida adulta.
Eu me lembro do impacto gigantesco do nascimento do meu filho. O acontecimento era tão grandioso e definitivo, que eu pensava ser impossível me desligar da ideia de que eu havia me tornado mãe. Por trás do volante, eu prestava mais atenção ao trânsito, pois agora era mãe. No supermercado, eu era mãe antes de ser compradora. Mãe e impaciente na fila, precisando voltar logo pra amamentar. Eu cozinhava sendo mãe, trabalhava sendo mãe, era mãe na loja de pneus, na fila do cartório, no laboratório de análises clínicas. Existir ou qualquer outro verbo do dicionário vinha sempre acompanhado de ser mãe. Demorou para que enfim eu me flagrasse distraída do fato de ter um filho. Esquecer o filho, mesmo que só por um instante, era finalmente me lembrar de mim. Entender que a maternidade não era minha única forma de existir me trazia de volta o controle da minha saúde mental.
E até o trabalho exaustivo de cuidar de um bebê costuma ser rapidamente esquecido, ou os pais não encomendariam um segundo filho.
Se a memória nos ajuda a sobreviver, também cumpre sua função algum esquecimento.
Volto ao cinema e trago a frase do poeta Waly Salomão. “A memória é uma ilha de edição”. Mas a ilha de nada serve sem alguém que faça as escolhas. Na maior parte das vezes, os editores somos nós. Na menopausa, quem faz os cortes é o cérebro, arbitrário, reclamando a falta de alguns hormônios. E lá estou eu na mesa de almoço, precisando que me passem o sal, sem conseguir lembrar as três letras. E o que parece o fim do mundo pode ser simplesmente divertido. Seria custoso demais carregar cada dor e cada mágoa, arrastar nossos mortos pelo caminho. Esquecer também é uma forma de perdão.
“Eu não guardo mágoa, guardo nomes”, brinca meu amigo. E eu prefiro guardar só a piada. A risada, por sinal, é outra excelente estratégia de esquecimento. E assim vamos aprendendo a guardar em local seguro o nosso disco rígido, para que a vida, ao contrário do disco, seja mais maleável.
Perdi um grande amigo no final de 2024. Tal qual os mecanismos de checagem da Meta, meu amigo simplesmente saiu de cena. Habituado a ficar por trás das câmeras, literalmente deixou de existir. Acabou famoso internacionalmente. Seu último ato teria sido também a sua mensagem mais contundente. Que vida é essa em que parece impossível viver sem holofotes?
Perdi meu amigo para um mundo complexo, que todos os dias tenta nos engolir. Pensei na quantidade de vezes que nos encontramos nesses 15 ou 16 anos de amizade. Achei pouco, pouco demais. Queria ter aberto mais portas escondidas, oferecer meu ombro e revezar com o que ele me cedia. Ele nem chegou aos 40, subverteu a lógica que nos aguarda. Sim, envelhecer é perder pessoas. Cada vez mais pessoas.
E nós não falamos sobre os fins, embora estejam previstos desde o começo. Somos maduros, talvez. Mas isso não garante que vai doer menos.
Talvez por isso a ideia pueril de abandonar as redes sociais pareça tão glamurosa. Afinal, seria o fim do pacto com uma empresa que fez desaparecer qualquer código de conduta. E fez isso sem esconder suas intenções. O “salve-se quem puder” foi transmitido em rede mundial, como se nos dissesse: “Se vocês, usuários, não criam seus próprios filtros, por que a plataforma o faria?” E agora, que não sei onde guardei minha cabaninha?
Andy Warhol disse que um dia, todo mundo teria seus 15 minutos de fama. Errou no tempo, mas não poderia ter acertado mais. Ironicamente algumas de suas obras desapareceram no fogo em Los Angeles. O tempo de ausência de Demi Moore trouxe para suas mãos a estatueta com a qual ela já nem sonhava. Haveria no esconderijo um status de escassez, que posteriormente se converte em valor e visibilidade?
A vida é uma sucessão de despedidas. Desde o dia em que dizemos oi para o mundo, passamos a vida dizendo adeus — às pessoas, às fases que ficam para trás. Dizer até logo a alguém querido pode ser um adeus.
A transformação é a única palavra que permanece.
E ela pode vir num susto, acredite. Em 2020, praticamente perdi, de um dia para o outro, a audição do meu ouvido direito. Admitir que a perda teria sido definitiva me custou algum esforço. Até compreender os privilégios da minha não onipresença. Escolher o que ouvir e o que lembrar. Escolher até os momentos em que prefiro que esqueçam a minha existência.
Esquecer alguns nomes e lembrar que tenho um filho. Ouvir mais uma vez Viola Davis anunciando o prêmio para Fernanda. Esquecer o celular para me lembrar do céu azul. Colocar no mudo o discurso do homem alaranjado, deixar no vácuo os gestos supremacistas. Esquecer o medo, como diz o Milton. Lembrar a alegria do Flávio e recuperar a minha. Acordar como quem nasce. Ver nascer 2025 com uma vontade imensa de viver. Saúde, afeto e gargalhada: lembrar o que importa.
E nunca, jamais, esquecer minha alegria. “Nós vamos sorrir. Sorriam”.
O post Jogo da memória apareceu primeiro em Dia de Beauté.
What's Your Reaction?
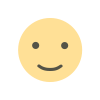
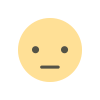

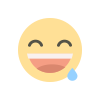

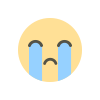


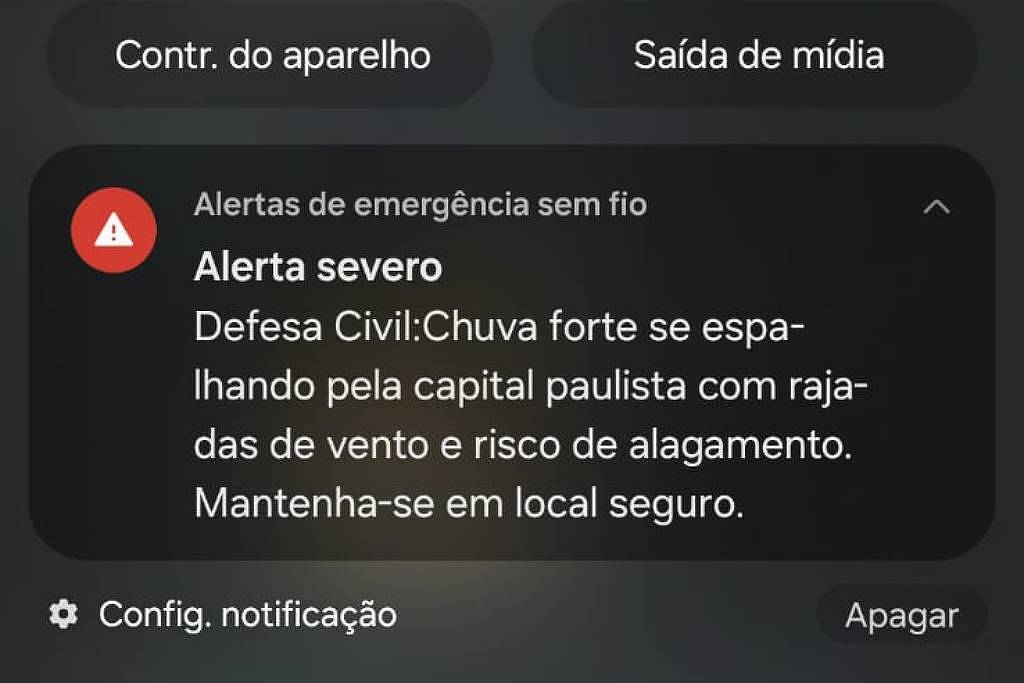
















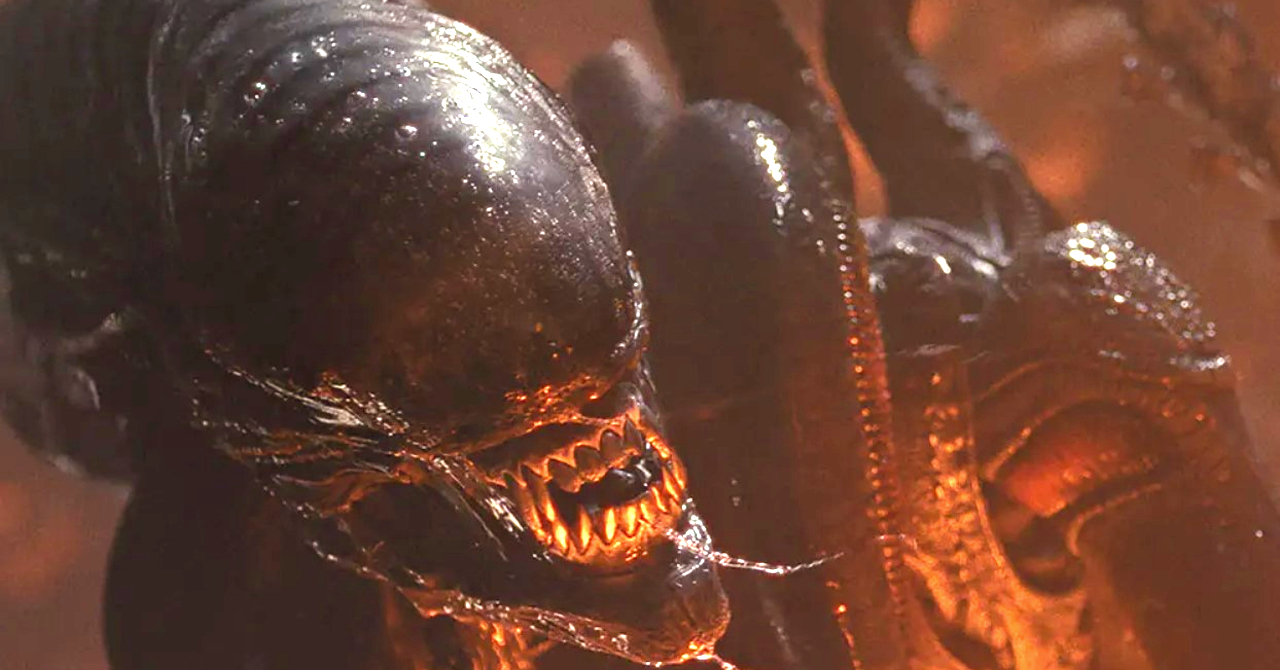















![Villano Antillano: “[A misoginia e a queerfobia] são problemas tão grandes que não se resolvem com conversas”](https://media.timeout.com/images/106046738/image.jpg)







































